Amor e Sabedoria na Sociedade de Consumo - entre a impossibilidade e a vergonha
"A ideologia de uma sociedade que se ocupa continuamente do indivíduo culmina na ideologia da sociedade que trata a pessoa como doente virtual. De facto, torna-se necessário acreditar que o grande corpo social se encontra muito doente e que os cidadãos consumidores são frágeis, sempre à beira do desfalecimento e do desequilíbrio para que em toda a parte, junto dos profissionais, nas revistas e nos moralistas analistas, se empregue o (…) discurso terapêutico”.
"Os arquitectos, publicitários, urbanistas e ”designers” pretendem todos ser demiurgos, ou melhor, taumaturgos da relação social e do meio ambiente. "As pessoas vivem no meio da fealdade”: importa sarar tudo isso”.Os psicossociólogos querem também ser terapeutas da comunicação humana e social. Também os industriais, que se consideram missionários do bem-estar e da prosperidade geral. “A Sociedade encontra-se enferma” – tal é o “leitmotiv” de todas as almas boas no poder. (…) Acerca do grande mito da Sociedade Doente, mito que evacua toda a análise das contradições reais, é necessário afirmar que os intelectuais – os contemporâneos “medicine men” – é que revelam a seu respeito larga cumplicidade. (…) Os profissionais, em geral, inclinam-se mais para alimentar o mito da Sociedade Doente, mais sob o ponto de vista funcional do que orgânico (…): para a curar, basta restabelecer a funcionalidade das trocas, acelerar o metabolismo (isto é, injectar de novo a comunicação, a relação, o contacto, o equilíbrio humano, o calor a eficácia e o sorriso controlado). É com alegria e com lucro que se aplicam a semelhante tarefa.”
Jean Baudrillard, A sociedade de Consumo
A análise de Baudrillard parte da crítica (que articula elementos históricos, filosóficos, sociológicos e psicológicos) da Sociedade de Consumo, com o especial cuidado de não se deixar enredar em pressupostos ideológicos, assinalando as pseudo-evidências, no fundo os grandes mitos das sociedades pós-industriais, nomeadamente, a difundida crença de que o corpo social e respectivas instituições estão ao serviço do indivíduo e da sua igualdade de oportunidades, do bem-estar e felicidade. O autor, ao longo da obra, chama a atenção para as reais contradições das nossas sociedades contemporâneas e para a gigantesca orquestração ideológica que, em nome dos valores e princípios democráticos, mais não faz do que reduzir as relações humanas à mera funcionalidade, em vista, é certo, do crescimento económico e da concentração das mais-valias e das forças produtivas sob a forma de monopólio das grandes corporações internacionais, mas, sobretudo, como forma poderosa e subtil de controlo e integração social, cuja violência é bastante diferente das formas tradicionais de violência policial e do Estado repressivo e censor, visto agir subrepticiamente por meio da ilusão (do simulacro, diz Baudrillard em outra obra) de que, pelo consumo (de objectos, mas também das próprias relações, a si mesmo e ao outro), se atinge plenamente a sonhada satisfação de Narciso.
Ora, o “mito da Sociedade Doente”, é apenas mais um dos mecanismos, sugere o autor, desta “superstrutura tentacular que ultrapassa em muito a simples funcionalidade das permutas sociais para se erigir em “filosofia” e em sistema de valores da nossa sociedade tecnocrática”, uma extensão lógica do processo de exaltação narcísica do indivíduo que culmina no seu progressivo isolamento, na melancolia e numa anomia generalizada que se manifesta sob a forma de violência sem conteúdo e de uma fadiga, depressão e apatia que mais não são do que sinais dessa mesma violência, sempre à beira de estalar a qualquer momento.
A contradição de fundo consiste em que, na sociedade de consumo, a todos os níveis se reproduz a inevitável concorrência, hostilidade e distanciamento, próprios da sociedade mercantil, o que, evidentemente, põe em causa a força de agregação do corpo social e, assim, o privilégio da posição soberana, para a qual, forçosamente, deve subsistir e permanecer no tempo a alienação da força de trabalho (das massas), convertida em valor de troca. O que está em jogo, pois, é a própria sobrevivência da sociedade, pelo que parece inevitável o accionar de múltiplas, diversificadas e poderosas forças que visam, ideologicamente, restaurar o movimento centrípeto do corpo social. Parece ser esse o sentido da “mística da solicitude”, do culto do corpo, da saúde e do bem-estar, do que, por vezes, se chama, em marketing, o clientocentrismo.
Assim, a visão diagnóstica, médica, terapêutica, dos “males” (será que ainda têm qualquer sentido as categorias éticas, ou será que também por este lado a representação se reduz ao campo dos signos e dos simulacros, da ausência de real, de hiper-realidade?), é um recurso fundamental para alimentar a ilusão de que as sociedades, a política e suas instituições se organizam com fins utilitários, tendo o bem ou prazer da pessoa como finalidade última e inalienável: o discurso (omnipresente nos media, na publicidade, nas montras das lojas, nos balcões de atendimento dos bancos, das empresas, das instituições do Estado) da “sociedade doente” é, em primeiro lugar, uma forma encapotada de induzir a convicção (e, em muitos casos, a subsequente somatização) de doença colectiva; mas, sobretudo, é uma espécie de agulha penetrante, por meio da qual se injectam representações “personalizadas” (quer dizer, que, dirigindo-se à multidão de consumidores, é recebida por cada um como mensagem que apenas a si mesmo se destina; “personalizadas” significa, também, por isso mesmo, artificiosamente produzidas, carentes de espontaneidade, logo, não pessoais) propiciadoras de um amor-próprio que, por meio da ilusão de que se é alvo “personalizado” de uma solicitude, de um dom prodigioso e duma gratuitidade sem limite, lubrifica o desgaste constantemente produzido pelas reais contradições económicas e sociais, face às quais o indivíduo se sente praticamente aniquilado, só, sem sentido – e que, sobretudo, como foi referido, põe em causa a sociedade e, consequentemente, o seu modelo económico, a sua estrutura produtiva e, claro, a possibilidade de, nela, se produzirem as diferenciações de privilégio e estatuto que formam o desenho da pirâmide social, em cujo topo se concentram cada vez mais todos os poderes.
Adivinha-se, portanto, o que se esconde por detrás de toda a boa intenção (falo sem cinismo, visto que, para se ser cínico, haveria ainda que partir das categorias tradicionais de “ser” e de “aparência”, da sua oposição dialéctica, categorias essas que parecem já não ter aplicação ao contexto actual em que toda a realidade tende a dar lugar a um sistema ou código de signos sem qualquer referência ao real) do discurso terapêutico e da sua respectiva mística da solicitude ou do serviço: acreditando cuidar de si mesmo, tratar-se, promover a sua felicidade e bem-estar, cada vez mais se torna difícil encontrar-se a si mesmo como referência última de si mesmo, acabando o indivíduo por alimentar, sem disso dar conta, o sistema no qual cada vez mais se afunda e perde.
Até que ponto estas reflexões, por assim dizer, podem ainda aspirar a uma dimensão “anti-sistema”, a um carácter exterior e crítico, é, por consequência, o que resta saber: até que ponto a crítica da sociedade de consumo não é, ela própria, uma manifestação, uma consequência e, retroactivamente, uma forma mais de alimentar e fortalecer a dita sociedade, é o que merecia ser investigado.
Uma segunda questão, a meu ver mais urgente, é da saber o que fazer de tais reflexões, visto que a lucidez a que plausivelmente conduzem facilmente se constituem como factor de angústia, desespero, desesperança, para não falar de uma enorme sensação de impotência e humilhação. Face a uma análise tão crua do mundo em que vivemos, a questão é, então, saber como amar a vida, como conciliar esse amor (sem o qual a vida se torna o maior dos pesadelos) com a recusa de persistir numa existência sob o modo de auto-engano. Esta não é uma questão nova para a humanidade – a novidade é que deixou de ser possível manter a esperança numa reposição da verdade a partir do momento em que se reconheceu que já não há distância entre a falsidade e a verdade, nem transcendência do ser em relação ao parecer.
É assim que me parece estar-se na iminência de um regresso (embora um regresso a um ponto de partida completamente diferente daquele do qual se partiu) ao problema fundamental da Filosofia: o do amor – do amor porventura impossível pela sabedoria. No seu ponto mais agudo, tal problema revela-se como impossibilidade do amor irreflectido (visto que, impregnada do modelo de transformação industrial, mediática e virtual da realidade não há mais lugar para a espontaneidade da relação humana ao outro) e como dificuldade (intransponível?) de recuperar, por meio da reflexão, e sem a destruir, a capacidade de amar.
A meu ver, este é um problema que nem a Filosofia nem a chamada Filosofia Aplicada podem fingir desconhecer, dado que, vocacionadas e justificadas (como acreditam estarem) para e pela resistência à apropriação ideológica, económica e política, se converteriam na maior e mais vergonhosa manobra de diversão de toda a História da humanidade.
Filipe M. Menezes
"A ideologia de uma sociedade que se ocupa continuamente do indivíduo culmina na ideologia da sociedade que trata a pessoa como doente virtual. De facto, torna-se necessário acreditar que o grande corpo social se encontra muito doente e que os cidadãos consumidores são frágeis, sempre à beira do desfalecimento e do desequilíbrio para que em toda a parte, junto dos profissionais, nas revistas e nos moralistas analistas, se empregue o (…) discurso terapêutico”.
"Os arquitectos, publicitários, urbanistas e ”designers” pretendem todos ser demiurgos, ou melhor, taumaturgos da relação social e do meio ambiente. "As pessoas vivem no meio da fealdade”: importa sarar tudo isso”.Os psicossociólogos querem também ser terapeutas da comunicação humana e social. Também os industriais, que se consideram missionários do bem-estar e da prosperidade geral. “A Sociedade encontra-se enferma” – tal é o “leitmotiv” de todas as almas boas no poder. (…) Acerca do grande mito da Sociedade Doente, mito que evacua toda a análise das contradições reais, é necessário afirmar que os intelectuais – os contemporâneos “medicine men” – é que revelam a seu respeito larga cumplicidade. (…) Os profissionais, em geral, inclinam-se mais para alimentar o mito da Sociedade Doente, mais sob o ponto de vista funcional do que orgânico (…): para a curar, basta restabelecer a funcionalidade das trocas, acelerar o metabolismo (isto é, injectar de novo a comunicação, a relação, o contacto, o equilíbrio humano, o calor a eficácia e o sorriso controlado). É com alegria e com lucro que se aplicam a semelhante tarefa.”
Jean Baudrillard, A sociedade de Consumo
A análise de Baudrillard parte da crítica (que articula elementos históricos, filosóficos, sociológicos e psicológicos) da Sociedade de Consumo, com o especial cuidado de não se deixar enredar em pressupostos ideológicos, assinalando as pseudo-evidências, no fundo os grandes mitos das sociedades pós-industriais, nomeadamente, a difundida crença de que o corpo social e respectivas instituições estão ao serviço do indivíduo e da sua igualdade de oportunidades, do bem-estar e felicidade. O autor, ao longo da obra, chama a atenção para as reais contradições das nossas sociedades contemporâneas e para a gigantesca orquestração ideológica que, em nome dos valores e princípios democráticos, mais não faz do que reduzir as relações humanas à mera funcionalidade, em vista, é certo, do crescimento económico e da concentração das mais-valias e das forças produtivas sob a forma de monopólio das grandes corporações internacionais, mas, sobretudo, como forma poderosa e subtil de controlo e integração social, cuja violência é bastante diferente das formas tradicionais de violência policial e do Estado repressivo e censor, visto agir subrepticiamente por meio da ilusão (do simulacro, diz Baudrillard em outra obra) de que, pelo consumo (de objectos, mas também das próprias relações, a si mesmo e ao outro), se atinge plenamente a sonhada satisfação de Narciso.
Ora, o “mito da Sociedade Doente”, é apenas mais um dos mecanismos, sugere o autor, desta “superstrutura tentacular que ultrapassa em muito a simples funcionalidade das permutas sociais para se erigir em “filosofia” e em sistema de valores da nossa sociedade tecnocrática”, uma extensão lógica do processo de exaltação narcísica do indivíduo que culmina no seu progressivo isolamento, na melancolia e numa anomia generalizada que se manifesta sob a forma de violência sem conteúdo e de uma fadiga, depressão e apatia que mais não são do que sinais dessa mesma violência, sempre à beira de estalar a qualquer momento.
A contradição de fundo consiste em que, na sociedade de consumo, a todos os níveis se reproduz a inevitável concorrência, hostilidade e distanciamento, próprios da sociedade mercantil, o que, evidentemente, põe em causa a força de agregação do corpo social e, assim, o privilégio da posição soberana, para a qual, forçosamente, deve subsistir e permanecer no tempo a alienação da força de trabalho (das massas), convertida em valor de troca. O que está em jogo, pois, é a própria sobrevivência da sociedade, pelo que parece inevitável o accionar de múltiplas, diversificadas e poderosas forças que visam, ideologicamente, restaurar o movimento centrípeto do corpo social. Parece ser esse o sentido da “mística da solicitude”, do culto do corpo, da saúde e do bem-estar, do que, por vezes, se chama, em marketing, o clientocentrismo.
Assim, a visão diagnóstica, médica, terapêutica, dos “males” (será que ainda têm qualquer sentido as categorias éticas, ou será que também por este lado a representação se reduz ao campo dos signos e dos simulacros, da ausência de real, de hiper-realidade?), é um recurso fundamental para alimentar a ilusão de que as sociedades, a política e suas instituições se organizam com fins utilitários, tendo o bem ou prazer da pessoa como finalidade última e inalienável: o discurso (omnipresente nos media, na publicidade, nas montras das lojas, nos balcões de atendimento dos bancos, das empresas, das instituições do Estado) da “sociedade doente” é, em primeiro lugar, uma forma encapotada de induzir a convicção (e, em muitos casos, a subsequente somatização) de doença colectiva; mas, sobretudo, é uma espécie de agulha penetrante, por meio da qual se injectam representações “personalizadas” (quer dizer, que, dirigindo-se à multidão de consumidores, é recebida por cada um como mensagem que apenas a si mesmo se destina; “personalizadas” significa, também, por isso mesmo, artificiosamente produzidas, carentes de espontaneidade, logo, não pessoais) propiciadoras de um amor-próprio que, por meio da ilusão de que se é alvo “personalizado” de uma solicitude, de um dom prodigioso e duma gratuitidade sem limite, lubrifica o desgaste constantemente produzido pelas reais contradições económicas e sociais, face às quais o indivíduo se sente praticamente aniquilado, só, sem sentido – e que, sobretudo, como foi referido, põe em causa a sociedade e, consequentemente, o seu modelo económico, a sua estrutura produtiva e, claro, a possibilidade de, nela, se produzirem as diferenciações de privilégio e estatuto que formam o desenho da pirâmide social, em cujo topo se concentram cada vez mais todos os poderes.
Adivinha-se, portanto, o que se esconde por detrás de toda a boa intenção (falo sem cinismo, visto que, para se ser cínico, haveria ainda que partir das categorias tradicionais de “ser” e de “aparência”, da sua oposição dialéctica, categorias essas que parecem já não ter aplicação ao contexto actual em que toda a realidade tende a dar lugar a um sistema ou código de signos sem qualquer referência ao real) do discurso terapêutico e da sua respectiva mística da solicitude ou do serviço: acreditando cuidar de si mesmo, tratar-se, promover a sua felicidade e bem-estar, cada vez mais se torna difícil encontrar-se a si mesmo como referência última de si mesmo, acabando o indivíduo por alimentar, sem disso dar conta, o sistema no qual cada vez mais se afunda e perde.
Até que ponto estas reflexões, por assim dizer, podem ainda aspirar a uma dimensão “anti-sistema”, a um carácter exterior e crítico, é, por consequência, o que resta saber: até que ponto a crítica da sociedade de consumo não é, ela própria, uma manifestação, uma consequência e, retroactivamente, uma forma mais de alimentar e fortalecer a dita sociedade, é o que merecia ser investigado.
Uma segunda questão, a meu ver mais urgente, é da saber o que fazer de tais reflexões, visto que a lucidez a que plausivelmente conduzem facilmente se constituem como factor de angústia, desespero, desesperança, para não falar de uma enorme sensação de impotência e humilhação. Face a uma análise tão crua do mundo em que vivemos, a questão é, então, saber como amar a vida, como conciliar esse amor (sem o qual a vida se torna o maior dos pesadelos) com a recusa de persistir numa existência sob o modo de auto-engano. Esta não é uma questão nova para a humanidade – a novidade é que deixou de ser possível manter a esperança numa reposição da verdade a partir do momento em que se reconheceu que já não há distância entre a falsidade e a verdade, nem transcendência do ser em relação ao parecer.
É assim que me parece estar-se na iminência de um regresso (embora um regresso a um ponto de partida completamente diferente daquele do qual se partiu) ao problema fundamental da Filosofia: o do amor – do amor porventura impossível pela sabedoria. No seu ponto mais agudo, tal problema revela-se como impossibilidade do amor irreflectido (visto que, impregnada do modelo de transformação industrial, mediática e virtual da realidade não há mais lugar para a espontaneidade da relação humana ao outro) e como dificuldade (intransponível?) de recuperar, por meio da reflexão, e sem a destruir, a capacidade de amar.
A meu ver, este é um problema que nem a Filosofia nem a chamada Filosofia Aplicada podem fingir desconhecer, dado que, vocacionadas e justificadas (como acreditam estarem) para e pela resistência à apropriação ideológica, económica e política, se converteriam na maior e mais vergonhosa manobra de diversão de toda a História da humanidade.
Filipe M. Menezes
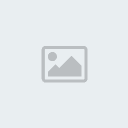
 Início
Início
